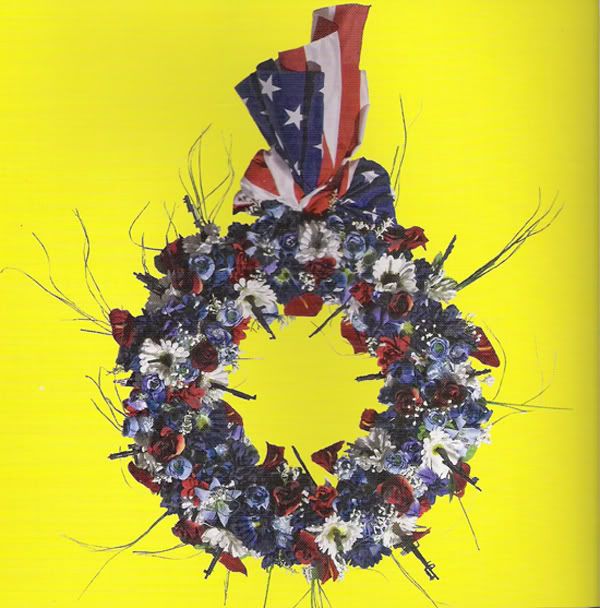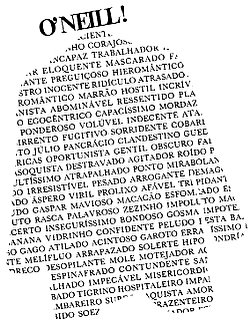Muito do lixo televisivo e dos pasquins vários que dão pelo nome de jornais, alimenta-se, invariavelmente, de uma "programação" para os eruditos e os "furos" jornalísticos, a farejar sangue, a chegar-se cada vez mais, às telenovelazinhas domésticas. Num e noutro caso, em pouco se engrandece o parco território cultural que por cá se respira.
Foi, portanto, com grande surpresa que vi erguer-se um muro de silêncio em torno do caso Gisberta. Claro que se ouviram, aqui e ali, uns tímidos protestos e uns laivos de jornalismo crítico e vivo. Mas só há 2 ou 3 dias encontrei uma rigorosa história, que ia muito para além dos factos públicos, tentando perceber o nó da questão.
Que há um nó, há certamente: um travesti assassinado, que, mais tarde se descobre ter morrido por afogamento e, mais ainda, cujos jovens assassinos vão sendo transformados, do dia para a noite, pelo próprio Ministério Público, de hediondos criminosos em crianças em risco, sem consciência que estavam a maltratar alguém até à morte, é caso, no mínimo, para ficarmos -ainda - mais inquietos sobre o estado da justiça em Portugal. E que toda atrapalhada à volta deste caso tenha pacificamente sido manipulada a bel-prazer dos poderes instalados, não é caso para ficarmos mais descansados.
Longe de mim a ideia de os jovens à beira do abismo fossem lançados à fogueira, mas, conhecendo como conheço, algumas dezenas de jovens em risco, não me parece ter sido exemplar despenalizar o crime. Teria sido, sim, importante, para a sociedade, mostrar como se cruzam as faixas do bem e do mal, e como, perigosamente, alguns jovens, por desporto, por ócio, por ódio aos pais que os deixaram entregues à sua sorte, por imitação dos chefes de fila, por medo de ficar para trás e não serem ninguém na vida, nem como não heróis, por raiva mal contida contra os agressores que muitas vezes os rodeiam e lhes fazem de pais e de carrascos, com alguns maus tratos pelo meio e talvez umas festinhas na nuca a lembrar quem manda em quem, talvez por isto ou por qualquer outra razão que não conheço, alguns jovens vivem numa ravina onde só se desce, e despenham-se sem sequer deixarem vestígio de ali terem estado.
Jovens como este povoam hoje grande parte do mundo, encostados às paredes à espera do biscate, dos desempregos sucessivos, arrastando-se até ao fim do mês para receber o subsídio, a esmola que lhes pagam para fingirem que estão vivos, qundo, afinal, como eles muito bem sabem nas noites insones, nada nem ninguém os espera. Mal sabem falar, muito menos escrever, apesar das suas cabeças adivinharem a escuridão que se aproxima, quando um dia ficarem na esquina à espera do cliente e começarem a chutar no corpo algo mais forte do que os penalties que já não lhe abrandam aquela dor permanente de não serem de ninguém.
A Gisberta, não sabemos como nem porquê, também por aqui passou. Não sei em que esquinas perdeu aquele ar de quase senhora de que parecia orgulhar-se, o rosto sereno e altivo, rodeado de cabelos principescos, que a fariam passar por uma diva em férias, o ar doce com que se debruçava à janela a falar com avizinha, a quem pintava o cabelo, com as suas mãos de homem que conheciam o fazer das mãos de mulher.
Não sei porque veio para este país pequeno e pouco tolerante, apesar das aparências, talvez para ficar longe dos que a amavam fosse ela quem fosse, talvez para se pôr à prova, talvez atrás do sonho europeu...
Sei que um dia tropeçou na vida. Irremediavelmente. A droga, a prostituição e a sida fazem um triângula perfeito, para quem tropeça assim, numa espécie de morte que já não altera muito a condição da vida (?).
Há hiatos nesta história, mas a Gisberta, um dia, deixou de importar consigo, gastou as botas até ficarem cambadas, abandonou os cabelos que lhe enfeitavam o olhar e passou andar rente às paredes, para ninguém a ver. Por falta de pagamento, foi andando de quarto em quarto, de rua em rua, de beco em beco, até chegar àquele poço inacabado onde restos de pessoas se acolhiam.
A sua paz não durou muito, porque os "putos" a descobriram e acharam importante mostra-lhes o seu pseudomachismo, cuspir-lhe na cara, usá-la como coisa. Um lixo, comparada com eles, que tinham casa, mesa e roupa lavada. Um lixo que eles nunca haviam de ser, apesar das mães e os pais os terem armazenado naquela casa grande onde sentiam medo e solidão. Um trapo, uma bola de ninguém em que todos podem chutar.
O "verdadeira" óbito dentro do poço é, realmente, de uma exactidão impressionante e hipócrita. Gisberta foi maltratada até à morte, repetidamente, por meninos pequenos com muita morte dentro deles. (Tivesse sido um cidadão português com os impostos em dia, o desfecho do caso teria sido bem diferente, mas, temos de comprender, travesti e brasileira, oque é que nós temos que ver com isso?).
Resta-me a consolação de presentir que Gisberta não morreu só daqueles maus tratos. Morreu muito antes, numa porta qualquer em que perdeu a esperança. Morreu sem ajuda, sem ninguém que lhe acudisse, ao ouvi-la gemer e chorar, sem ninguém que lhe desse a mão. Por pena, nem que fosse.
Gisberta morreu porque não havia humanos por perto, na hora da sua morte. Morreu em plena travessia do deserto de que são feitos a solidão e o esquecimento.
armandina maia